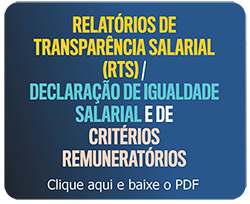“Ela entrou na sala e todo mundo gritou: puta, famosinha. Até a professora riu.” O relato explícito de um estudante de 16 anos de Diadema não espanta colegas de outras escolas e regiões da Grande São Paulo.
Desde o ano passado, episódios de humilhação coletiva tornaram-se mais comuns por causa de vídeos espalhados pela internet com imagens de adolescentes e insultos por suas supostas vidas sexuais.
Para especialistas, mais chocante do que o bullying é a postura omissa do adulto, que precisaria cuidar das vítimas e combater o machismo.
Chamados de “Top 10”, os vídeos expõem meninas de 11 a 16 anos com montagens a partir de fotos ou filmes extraídos de redes sociais ou enviados por celular.
Os “rankings” são feitos por escola ou região e circulam em páginas do Facebook, YouTube ou pelo aplicativo de trocas de mensagens Whatsapp.
Em Parelheiros, extrema zona sul de São Paulo, a articuladora da ONG Ibeac, Sidineia Chagas, contabiliza entre as consequências casos graves de depressão, abandono escolar e um suicídio. “É uma crueldade que está viral. A sociedade precisa reagir”, pede.
No Grajaú, também na zona sul da capital, todos conhecem o “Top 10” – dos aposentados sentados na calçada às crianças indo para a escola.
Só a expressão é suficiente para gerar escárnio de uns e angústia de muitos. “Sou cabeleireira, trabalho com a vaidade feminina, mas peço para minha filha não se expor. As coisas estão mais difíceis para as meninas hoje em dia. Tudo é vigiado”, comenta Dulce Ferreira, 45 anos, mãe de uma adolescente de 15.
Entre os alunos, todos conhecem ao menos uma vítima. “Sei de três meninas que largaram a escola por vergonha. Uma mudou até de bairro, saiu da casa dos pais e foi viver com uma tia, mas não adiantou. Com a internet, já viram o vídeo lá também”, conta um rapaz de 17 anos, confessando que via imagens com cenas íntimas das alunas. “Se alguém falar que não viu, está mentindo”, afirma.
O tema tem sido debatido até nos muros do bairro.
Durante um ano, um escadão que é caminho para três escolas estava pichado com o nome de uma das meninas, acompanhado de um desenho de um pênis, um palavrão e a alusão ao “Top 10”.
Em maio passado, um “grafitaço” feminista promovido pelo movimento Mulheres em Luta convocou 20 artistas para colorir e ressignificar as paredes e os degraus do escadão. Ao lado de desenhos de partes do corpo feminino há frases como “machismo fere”, “a voz de uma mulher ninguém cala” e “meu corpo, minhas regras”. A intervenção, porém, durou pouco.
Dias depois, vizinhos apagaram trechos do grafite que falavam de sexualidade. A psicóloga Elaina Francisca Lima, uma das responsáveis pela intervenção artística, buscou saber o motivo da reação.
“Eles alegaram que era um local de passagem de crianças. Perguntei por que não apagaram a pichação anterior, com o palavrão, e disseram que aí era sobre uma menina específica”, lembra, apontando a violência por omissão. “Como se ela merecesse.”
A ação ainda gera reação dúbia dos moradores, mas também já contabiliza resultados positivos. Com o muro da própria casa grafitado com expressões como “força irmãs” e “sexo livre”, o aposentado Rubem Clemente, de 67 anos, conta que foi consultado e permitiu a pintura.
“Me perguntaram se podia, eu deixei. Cada um faz o que quer para ser feliz”, afirma, acrescentando que ouviu “piadinhas” por causa disso.
O operador de telemarketing Eduardo Barbosa, que sobe e desce os degraus da viela todos os dias, afirma que “estranhou” o tema no primeiro momento. “Foi uma coisa inesperada e muito chamativa. De cara, achei alguns fortes, mas entendo que é cultural”, disse.
Também há mais pessoas dispostas a reagir. Novos cartazes foram colados pelo bairro e, embora muitos ainda evitem o tema, o debate começa a ser naturalizado.
Estudante do 3º ano do Ensino Médio, Carolina Teixeira, 17 anos, conta que teve acesso à lista de duas escolas do bairro desde o ano passado e mudou de postura em relação ao bullying nos últimos meses.
“Quando vi os primeiros, minha reação foi de julgar as meninas, eu ainda não tinha refletido. Mas a gente debateu tanto, que hoje vejo como uma coisa ridícula da parte de quem monta o vídeo”, explica.
A promoção do debate é a intenção do grupo responsável pelo grafite que também faz, em parceria com a Unidade Básica de Saúde, oficinas sobre sexualidade para alunos a partir de 11 anos. Segundo Elaina, no entanto, a minoria das instituições aceita o programa “Dizem que é melhor não falar nada, que isso piora”, lamenta.
Para a professora associada do Laboratório de Estudos da Família, Relações de Gênero e Sexualidade da Universidade de São Paulo, Belinda Mandelbaum, não falar com crianças e adolescentes sobre o assunto é irresponsabilidade.
Ela conta que entre os projetos acadêmicos que orienta também há resistência de algumas instituições de ensino para permitir a entrada.
“O que me espanta mais em tudo isso é a escola não tomar medida para cuidar da sua aluna. Tinha de se posicionar. Não tomar providência é tornar o campo profícuo para a barbárie em que ocorrem essas e outras violências.”
Ela explica que sexualidade é um tema na vida de toda pessoa desde criança, quer falem do assunto, quer não. “Freud já mostrava isso há cem anos, o papel dos adultos é ajudá-los a dar conta do que eles já sentem e desejam. Dizer que isso não é assunto para crianças e adolescentes é uma falácia”, afirma.
A orientação da especialista é não perder a oportunidade de abordar o tema e aproveitar, inclusive, novos bullyings e reportagens a respeito para contribuir com o aumento do respeito entre os alunos.
Vale questionar quem assistiu e perguntar como reagiram para deixar que conversem, mas também é importante trazer informações para acrescentar um ponto de vista embasado.
Dados que comprovam o caráter machista da sociedade não faltam. Segundo o IBGE, as mulheres ganham, em média, 27% menos que os homens com as mesmas funções, por exemplo. Já o Mapa da Violência mostra que, entre as 43,7 mil mulheres assassinadas na década passada, 45% foram vítimas de violência doméstica. Para Belinda, as questões têm a mesma raiz.
“Expor a mulher como objeto constrói a imagem de uma coisa, não de uma pessoa, logo, não tem os mesmos direitos e sua vida vale menos.”
Campanhas que combatem o estereótipo também são bem-vindas. Uma forma de iniciar o assunto é usar uma das várias campanhas atuais por respeito e igualdade de gênero.
Um exemplo é o documentário Por Trás do Fiu Fiu, realizado pelo coletivo feminista Olga e gratuito no YouTube que faz um protesto sobre o constrangimento a que mulheres são expostas diariamente.
Outra recente é o Não Tem Conversa, campanha feminista para que não haja debates sem diversidade de gênero. Mais polêmica, a Marcha das Vadias é outra forma de abordar o tema.
O evento anual faz uma campanha contra a culpabilização da vítima, como ocorre em casos de violência contra a mulher. O slogan é: “Se ser vadia é ser livre, somos todas vadias”.
Outro fator importante para combater o bullying é a criação de empatia. Os professores podem pedir aos alunos – meninas ou meninos – que tentem se colocar no lugar da vítima, pensar nas ofensas que já tenham escutado ao longo da vida e como se sentiriam com aquela invasão. Também é possível mostrar como não se posicionar contra só aumenta a chance de isso ocorrer com qualquer pessoa. “É missão da escola transmitir valores de solidariedade e respeito. Mostrar como o ambiente violento pode atingir todos e não melhora a vida de ninguém”, explica.
Os professores e a Secretaria Estadual de Educação dizem que sexualidade e combate ao bullying são tratados de forma geral, mas não há um programa específico em relação ao “Top 10”.
Na Maria Homem de Mello, o professor responsável pela sala de leitura, Jailson de Souza, afirma que é comum haver palestras sobre temas relacionados. “Estamos sempre falando de cyberbullying, é um tema recorrente.
Conversamos com as meninas: será que vale a pena ficar famosa?”, disse, reforçando a postura do senso comum de que as meninas teriam culpa. Quando a reportagem questionou sobre a postura em relação aos meninos, ele respondeu:
“Nunca soube de ‘Top 10’ de homens”.
O professor também disse que desconhecia ranking específico daquela instituição e que achava que era do bairro em geral.
Entre os alunos, no entanto, as listas da escola são lembradas com detalhes. As vítimas mais abaladas preferem não se expor mais. Duas meninas de 16 anos, no entanto, contaram que figuraram no “Top 10” de 2014, uma no “Top 10 da manhã” outra no “da tarde”.
O relato delas também mostra como o apoio de colegas e adultos é fundamental para superar a violência. “Eu apareci no ano passado. Quando entrei na sala, me chamaram de famosinha do “Top 10”, mas fiz minha interpretação de que era coisa de alguém que eu iludi e pronto. Meus amigos me ajudaram e passou”, diz Julia Gandra, de 15 anos.
Já Gabriela Fernandes, 16 anos, lembra que ficou bastante aflita. “Não quero comentar o que era, mas foi ofensivo”, recorda, contando que enfrentou o bullying cibernético com o auxílio da mãe.
“Mostrei e ela me deu apoio, disse para eu não baixar a cabeça, me deu força. Fui para a escola no dia seguinte e ignorei os comentários, como quem não deve nada para ninguém.”
Com a atuação de ONGs e visibilidade pela mídia, páginas no Facebook e no YouTube foram denunciadas, apesar do aparecimento de outras.
O Ministério Público do Estado de São Paulo também abriu investigação sobre o tema em junho e o temor de consequências reduziu o número de novas postagens.
Ainda assim, muitos traumas já ocorreram. “As meninas precisam de cuidado e acolhimento. Quem deixou de ir à aula, quem foi ofendido, precisa de atenção especial. Ignorar é ser conivente”, conclui Belinda.
Cinthia Rodrigues - Carta Educação - 29.07